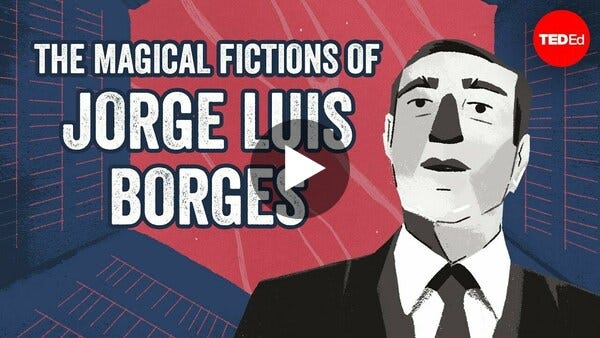Pode a literatura ser um jogo? — Borges e Cortázar
Logo que enviei a edição passada, fiquei com uma pulga atrás da orelha: será que tinha sido claro em desenvolver o que propus logo no título?
Espero que sim. Enquanto apresentava aqueles quatro princípios — de competição; de sorte/azar; de simulação; de vertigem — estava pensando nos motivos por jogarmos. Além disso, falamos da sociabilização, da visualização de problemas reais pelo viés do jogo, do distância do mundo cotidiano, enfim… a reflexão se espalhou ao longo do desenvolvimento, mas fica uma breve conclusão em relação à pergunta do título.
Hoje, vamos por outro caminho: quero pensar na literatura enquanto jogo (o que é diferente de pensar o livro enquanto suporte). Para isso, queria pensar em dois autores que falam sobre jogos, infinitos e acasos (e que, talvez, alguns já tenham cansado de ouvir): Jorge Luis Borges e Julio Cortázar.
As próximas duas edições fogem ao padrão que estamos acostumados, já que são contos meus. São textos que surgiram como exercícios e servem para marcar a chegada da próxima temporada, no dia 05 de agosto. Citei ela última edição que meu texto sai junto com a estreia de Sandman por um motivo: a próxima temática é de sonhos.
Vai ser uma temporada diferente, porque tirei alguns planos do papel para testar o formato. Inclusive, um brinde para os assinantes que me apoiaram nessa empreitada e que já receberam algumas informações adiantadas (o e-mail está na página do Catarse, caso alguém resolva assinar e checar ou caso você seja um padrinho que não recebeu o informe).
Se você gosta da newsletter, não deixe de compartilhar com quem você acha que pode curtir a próxima temporada — e, se você foi uma das pessoas que recebeu o texto de alguém, não deixe de inscrever seu e-mail na página inicial para não perder nenhuma edição.
Muito bem, que rolem os dados….
Literatura enquanto jogo
Quando criança, encontrei muitas vezes o Wally e suas roupas listradas nas páginas de suas aventuras em Hollywood; caminhei por labirintos na coleção Salve-se quem puder; e tive um Encontro marcado com o M.E.D.O. numa narrativas interativas em um livro de RPG individual
Até hoje, quando tento resolver os enigmas de livros como S. — O Navio de Teseu, de J.J. Abrams e Doug Dorst, ou de House of Leaves, de Mark Z. Danielewski, tenho essas experiências. A obra mais recente que chamou minha atenção foi Cain’s Jawbone: A Novel Problem, escrito por Edward Powys Mathers nos anos 1930 e revivida graças aos algoritmos do TikTok. O livro traz a história de seis assassinatos diferentes ao longo das suas várias páginas — que estão, claro, fora de ordem e precisam ser destacadas e rearranjadas para descobrir as vítimas e os assassinos.
Nessas exemplos, é fácil visualizar como o livro pode se tornar um suporte para o jogo, substituindo peões, cartas ou tabuleiros. Mas e o ato da leitura? Podemos pensar em um romance como um jogo? Talvez a gente consiga chegar bem perto — retomando os elementos da edição passada e flexibilizando um pouco, aproveitando o espaço da newsletter.
De maneira sucinta, vimos que os jogos exigem regras. São elas que ordenam a realidade que se constrói fora do mundo real, que estabelecem os parâmetros de relação entre os jogadores e que garantem as possibilidades de repetição do jogo. Tais restrições não são impositivas, mas podem ser organicamente alteradas, de acordo com as necessidades e os prazeres de cada um dos jogadores.
Em Seis passeios pelos bosques da ficção, Umberto Eco apresenta o texto com “uma máquina preguiçosa” que exige que o leitor faça uma parte do seu trabalho: completar as várias lacunas necessárias no processo de estabelecimento do mundo de um texto literário porque, como nos jogos, quando lemos estamos fora do espaço da vida real.
A metáfora que Eco propõe, e que dá título ao livro, é que esse espaço da ficção literária é como um bosque:
“Usando a metáfora criada por Jorge Luis Borges (…), um bosque é um jardim de caminhos que se bifurcam. Mesmo quando não existem num bosque trilhas bem definidas, todos podem traçar sua própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para a direita de determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta ou aquela direção”.
Fazemos previsões, ainda que inconscientemente, de onde a frase irá terminar (como aquela antiga piada na internet, de como é estranho quando as frases não terminam do jeito que a gente periquito); do caminho da narrativa; dos pensamentos e ações dos personagens… Quando pensamos que “o personagem jamais faria isso”, estamos refletindo de acordo com o percurso que escolhemos naquele bosque.
Só que essas escolhas, apesar de abertas, são delimitadas — existem regras, não impositivas, que permitem certos caminhos, mas não outros. Umberto Eco apresenta essas regras por meio de duas figuras: a do Autor-Modelo e a do Leitor-Modelo.
De maneira breve, o primeiro é a voz ou a estratégia textual que o autor de verdade escolhe para se apresentar — por isso, não se pensa muito nos fatores biográficos dos autores quando analisamos textos, o que há ali é uma certa construção estratégica de como o autor escolheu se apresentar. Os pseudônimos de Fernando Pessoa com seus passados e histórias individuais, ou a própria polêmica ao redor de Elena Ferrante, mostra que deveríamos pensar menos em quem essas pessoas podem ser de verdade e mais em como elas são reais enquanto autores daquelas páginas.
De qualquer forma, esse Autor-Modelo traz instruções, sugestões de trilhas para percorrer dentro do bosque. A projeção desse roteiro é o que Eco chama de Leitor-Modelo, que seguimos durante a leitura, com as adaptações que fazemos de acordo com nossos repertórios, caminhos e vontades — já que somos leitores do mundo real.
Umberto Eco sintetiza essa relação como: “o autor-modelo é uma voz que nos fala afetuosamente (ou imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos quer a seu lado. Essa voz se manifesta como uma estratégia narrativa, um conjunto de instruções que nos são dadas passo a passo e que devemos seguir quando decidimos agir como leitor-modelo”.
Nesse caminho, podemos seguir como “um leitor-modelo do primeiro nível, que quer saber muito bem como a história termina”; mas também, podemos ser um leitor-modelo de segundo nível, “que se pergunta que tipo de leitor a história deseja que ele se torne e que quer descobrir precisamente como o autor-modelo faz para guiar o leitor” — um movimento de crítica literária.
Acredito que essa exposição prolongada da existência das regras não só apresentou a já citada evasão do mundo cotidiano, mas apresenta que o bosque narrativo só pode ser percorrido em um espaço-tempo diferenciado, marcado pela fruição literária e num ato voluntário — ainda que feita num momento de obrigação, há que se encontrar a fruição e o interesse. Por fim, o ato literário cria e reforça, por extensão, os laços da comunidade de leitores e desse espaço compartilhado da leitura.
Mas, em toda essa apresentação, acho que uma coisa escapa às definições: a imprevisibilidade, ou o acaso. Em um jogo, o resultado é imprevisível. Seja por habilidade ou sorte, a conclusão de uma partida é sempre nebulosa. Mas a literatura, por outro lado, tem sua trajetória demarcada a partir do momento em que seus autores concluem a escrita e, mesmo que sigamos outras trilhas, o destino final parece ser o mesmo… ou será que conseguimos subverter isso?
Jorge Luis Borges, o Infinito e o Acaso
Jorge Luis Borges, argentino, nascido em 1899 em Buenos Aires, é um dos contistas mais conhecidos do mundo. Sua obra inclui também poesias, ensaios e resenhas de livros (inclusive dos que nunca existiram) e, apesar de ter influenciado autores como Gabriel García Márquez, foi reconhecido internacionalmente aos 60 anos, quando já estava cego.
Em Por que ler os clássicos, Italo Calvino mostra como Borges relaciona a literatura com o trabalho intelectual e a organização de um mundo. Para o argentino, a realidade só existe registrada pela escrita. A palavra é origem e o fim da realidade: “origem, porque se torna o equivalente de um acontecimento que de outra maneira ficaria como não tendo ocorrido; como fim, porque para Borges a palavra escrita que conta é aquela que tem um forte impacto sobre a imaginação, enquanto figura emblemática ou conceitual, feita para ser lembrada e reconhecida em qualquer aparição passada ou futura”.
Com essa visão, Borges pensa sua literatura de acordo com o que George Steiner chamou de “antimundo”, um local onde a realidade é moldada em um nível diferente do cotidiano. Se torna quase uma metáfora para a existência, porque reagrupa elementos da realidade e constrói outros mundos possíveis — como quando cita figuras históricas que não existiram ou resenha livros jamais escritos.
De acordo com George Steiner, tal Universo (que em Borges se apresenta também como uma biblioteca) “abrange todos os livros, não só os que já foram escritos, mas cada página de cada tomo que virá a ser escrito e, o que importa ainda mais, que poderia vir a ser escrito”, da mesma forma que comporta “não só todas as línguas, mas também as línguas que desapareceram ou ainda estão por surgir”.
Segundo Calvino, uma invenção fundamental de Borges foi a criação de si mesmo como um narrador e, assim, poderia fingir que o livro que gostaria de escrever já estava escrito por outro autor, desconhecido, e o resenhava. Conforme Italo Calvino descreve, “faz parte da lenda de Borges a anedota de que o primeiro extraordinário conto escrito com essa fórmula, ‘El acercamiento a Almotásim’, quando apareceu na revista Sur, foi encarado de fato como uma recensão de um livro de autor indiano”.
Assim, seus textos ampliaram a realidade por meio “de outros livros de uma biblioteca imaginária ou real, leituras clássicas, eruditas ou simplesmente inventadas” e, como era de se esperar para uma paisagem como essa, somos inseridos num espaço de labirintos, do próprio infinito, suas diferentes temporalidades… e o acaso.
‘Jardim das veredas que se bifurcam’
O Jardim das veredas que se bifurcam é, sem dúvida, um dos meus contos favoritos — e tem uma aula sobre ele bem interessante no YouTube, feita pelo prof. Davi Arrigucci Jr., que inclui também a análise do conto Manuscrito achado num bolso, de Julio Cortázar, e que vamos falar depois.
Em Jardim das veredas que se bifurcam, começamos lendo uma nota histórica, um parágrafo transcrito do livro História da Guerra Europeia de um conhecido historiador da guerra, Liddell Hart. No entanto, logo no primeiro parágrafo, as datas relativas à Batalha de Somme já não batem com a realidade do nosso mundo. Vemos uma história alternativa, temos uma duplicação e extensão da realidade como conhecemos. Philip K. Dick, anos depois, propõe um questionamento parecido ao escrever O homem do castelo alto.
Depois dessa nota, o estilo do texto muda e lemos um testemunho. O que se torna a partir daí é a narrativa de um conto de espionagem: um espião chinês, a serviço da Alemanha, é perseguindo por um espião irlandês, a serviço da Inglaterra. O alvo é o protagonista da história e ele está incumbido de avisar seu chefe, que lê diariamente os jornais, qual cidade deve ser bombardeada — o plano é assassinar um inocente cujo nome é o mesmo que o do distrito.
Para completar a missão, o narrador vai até a casa de seu alvo e lá conhece Stephen Albert, um pesquisador que estuda o antepassado do protagonista, o sábio Ts’ui Pein. A tradição diz que esse antigo mestre chinês se isolou por 13 anos com a intenção de criar um labirinto e um romance, mas, só depois de anos passada sua morte, descobriu-se que o labirinto e o romance eram a mesma coisa.
“— Aqui está o Labirinto — disse indicando-me uma alta escrivaninha laqueada.
— Um labirinto de marfim! — exclamei. — Um labirinto mínimo…
— Um labirinto de símbolos — corrigiu. — Um invisível labirinto de tempo. (…) Ts’ui Pen teria dito uma vez: Retiro-me para escrever um livro. E outra: Retiro-me para construir um labirinto. Todos imaginaram duas obras; ninguém pensou que livro e labirinto eram um só objeto.” — Jorge Luis Borges, ‘Jardim das veredas que se bifurcam’.
No desenvolvimento do conto, uma das coisas que Borges tensiona é o limite da narrativa, principalmente no que diz respeito à (im)possibilidade do acaso numa obra escrita. Para chegarmos lá, é interessante discutirmos em alguns pressupostos que Davi Arrigucci apresenta no começo da aula.
Em primeiro lugar, o professor comenta sobre duas questões contraintuitivas que estruturam o conto: a ideia de um labirinto perdido, e não um em que você se perde; e a ideia de um assassinato que precisa ser descoberto. Soma-se a isso o incômodo do protagonista que surge do conflito entre a multiplicidade presenta na vivência da modernidade e na sensação das vidas ancestrais em oposição à possibilidade única de sentir tudo isso enquanto indivíduo, pela experiência singular e linear.
Para tensionar essas questões, o que Borges faz é brincar com o símbolo labiríntico. E aí, nos perguntamos: o que é um labirinto? É uma obra edificada, criada com o intuito de levar um viajante qualquer até o centro de um determinado espaço, mas numa caminhada que aspira à perdição pelas diversas probabilidades: a ideia é que o viajante se perca e o trajeto se prolongue indefinidamente.
O romance se encontra no outro extremo dessa relação probabilística e do acaso. A narrativa impressa é definitiva: se um personagem pega a primeira entrada à direita, está fadado a percorrer sempre o mesmo caminho e precisa lidar com as consequências dessa resolução.
Por isso, o labirinto-romance de Ts'ui Pen parece confuso. Ele potencializa a escrita e desenvolver uma poética capaz de retratar todos os caminhos percorridos e contá-los no mesmo romance, abarcar todas as alternativas do acaso. O resultado é, obviamente, caótico: todos os caminhos são realizados e, portanto, nenhum aparece de maneira clara. É o que leva o protagonista a dizer: “Essa publicação foi insensata. O livro é um acervo indeciso de rascunhos contraditórios. Examinei-o certa vez: no terceiro capítulo morre o herói, no quarto está vivo”.
“Em todas as ficções, cada vez que um homem [sic] se defronta com diversas alternativas opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável Ts’ui Pen, opta — simultaneamente — por todas. Cria, assim, diversos futuros, diversos tempos, que também se proliferam e se bifurcam. Daí as contradições do romance” — Jorge Luis Borges, ‘Jardim das veredas que se bifurcam’.
Daí, o que surge é a ideia de infinito para Borges: não um infinito de duração plena e indefinida, como a eternidade cristã, mas uma série de possibilidades em aberto que gera multiplicações e a percepção de múltiplas temporalidades. O infinito do intervalo. Uma potencialização do acaso e suas probabilidades… e há um texto legal para pensar sobre o infinito menor, que surge entre o número um e o dois.
Assim, o que logo fica claro, é que o depoimento do próprio protagonista que lemos enquanto conto é apenas um dos desdobramentos da narrativa. Uma chance entre tantas outras, um acaso que surge naquela narrativa circular — em que uma carta que aparece no começo do conto, surge apenas no fim e inverte a esperada ordem de causa e consequência, e apresentando esta antes daquela.
‘A morte e a bússola’
Antes de voltarmos a falar do acaso em Júlio Cortázar, gosto de como Borges disseca outros questionamentos acerca dos leitores e as regras da literatura, que falamos acima. Ao longo de seus trabalhos, o escritor argentino elogiou a importância de Edgar Allan Poe para a literatura em diversos ensaios.
Davi Arrigucci Jr., que citei acima, comenta da importância do autor inglês para o escritor argentino, principalmente pela ideia da literatura enquanto uma construção intelectual e do jogo verbal como algo decisivo na construção da narrativa — duas noções que Poe firmou na literatura por meio dos textos policiais.
Segundo artigo de Júlio Pimentel Pinto, publicado em 2011 no periódico acadêmico Variaciones Borges, e relançado no livro A Pista & A Razão, Borges escrevia seus contos policiais de acordo com as reflexões de Poe e Chesterton — principalmente no duelo entre leitor e escritor.
Chesterton dizia que o leitor do policial não pergunta os motivos para as ações de um personagem, como ocorre em outras narrativas, mas questiona os motivos para um autor destacar esses detalhes, qual o significado daquelas pistas. No destrinchar teórico de Chesterton, o conto policial aparece como algo lógico, construído meticulosamente — uma “ficção fictícia” e não uma “ficção realística”.
De acordo com Júlio Pimentel, “a marca mais notável do gênero policial na obra individual de Borges — e por ele mesmo admitida — é ‘La muerte y la brújula’ [A morte e a bússola]’. Lá estão os elementos básicos de um conto policial”. Ali, temos uma narrativa que conta a investigação do detetive Lönnrot e seu assistente Treviranus em busca do assassino Scharlach.
Logo no começo, vemos que Borges brinca com alguns fatores clássicas do conto policial, como ao colocar um investigador de perspicácia “temerária”, menos ligada à parte concreta e racional da investigação.
Conforme lemos, percebemos que a investigação de Lönnrot se desenvolve cada vez mais longe da realidade. Ao chegar na cena do primeiro crime, ele encontra na impressora pistas sobre o nome de Deus e uma vítima que escrevia livros de teologia. Daí, o detetive toma um caminho complicado: enquanto seu assistente tece hipóteses baseadas na realidade concreta, Lönnrot o acusa de criar “hipóteses desinteressantes” e passa a se debruçar nos mistérios religiosos que envolvem a descoberta do nome de Deus, em uma investigação exclusivamente intelectual, desprezando as condições dos crimes.
Como nos conta Júlio Pimentel, “todos os personagens do conto cumprem seus papéis e prosseguem em seus itinerários: Lönnrot avança galhardamente em seus estudos hebraicos; Treviranus continua a investigar, com trabalho braçal, os crimes que se sucedem; (…) o criminoso volta a matar e deixa pistas cada vez mais coerentes com a visão do detetive. Como em toda narrativa policial, as histórias paralelas (…) confluem para o desfecho elucidativo e para o prevalecimento da razão analítica do detetive, que decifra o enigma e o expõe aos demais personagens e leitores”.
Tal conclusão do crime, controversa e apresentada no começo do conto como “rigorosamente estranha”, leva a um diálogo final entre Lönnrot e Scharlach que, como nos contos tradicionais, apresenta ao leitor motivações e justificativas — é essa relação que nos interessa.
Nesse momento, assim como Sherlock e Moriarty, percebemos que detetive e assassino são personagens espelhados: o conto é uma caça do assassino ao detetive, que já sabia de sua morte, e é o próprio assassino quem explica o crime, tomando o lugar do detetive.
Mas, se lembrarmos que Borges acredita que a realidade existe pela e na linguagem, e daquele papel ativo do leitor da narrativa policial, citado acima, a própria história de Lönnrot se torna uma reflexão sobre a leitura ativa e as regras do universo literário policial, e podemos relacionar com o que vimos em Eco. Por exemplo:
O detetive só acredita naquilo que lê e é nisso que aposta o assassino. Ao tratar o crime como uma narrativa, Ricardo Piglia diz que Scharlach “lê para Lönnrot e contra Lönnrot, mas também com ele”. Enquanto Lönnrot, em sua “perspicácia temerária”, perdia o chão da realidade e tentava escrever a história dos crimes, o assassino escrevia a história da investigação. O desfecho imprevisto da trama mostra como o detetive não era o único e nem o melhor leitor.
Na unificação da história do crime com a da investigação, o detetive buscou a maneira mais fiel e rígida de ler o texto encontrado nos livros e nas letras do nome de Deus. O assassino interpretou o texto e o flexionou, percebeu as instruções do autor e negociou as regras, criando uma armadilha para Lönnrot.
Julio Cortázar, o Jogo e a Fita de Möbius
Quando escrevi sobre Julio Cortázar no jornal Rascunho, a metáfora que trabalhei no título foi a da realidade numa fita de Möbius, onde a parte interna e a externa se confundem de forma que não sabemos onde firmamos os pés. Quase como uma paisagem de M.C. Escher.
Argentino nascido em 1914, Cortázar bebeu bastante de Borges. No entanto, apesar das semelhanças temáticas, Julio e Jorge diferem em suas cosmovisões da literatura. Em primeiro lugar, Cortázar escreve o fantástico como algo que habita o cotidiano, ainda que permeado por um filtro de incerteza e indefinição — que surge da impossibilidade de acessar a realidade real por meio do aparato imperfeito e insuficiente que é a linguagem. Então, o único retrato possível é de uma realidade falsa, frequentemente em suspenso.
Nesse percurso, a linguagem não é só insuficiente pelo processo impossível de transpor o acontecimento concreto para o texto, mas também pela fraqueza das categorias lógicas, como o tempo e o espaço, e dos instrumentos racionais que temos à disposição para estruturar nosso pensamento.
Por isso, Cortázar também se preocupa em esticar os limites da percepção da realidade — e, consequentemente, da narrativa. O caminho que ele toma nos é particularmente interessante. Seus personagens, com obsessões, manias e tiques, quase loucos, não só indicam uma realidade inconcebível, mas também a natureza lúdica da literatura dele.
A obra que mais famosa com esse espírito provavelmente é O jogo da Amarelinha, com uma forma não-linear e interativa — mas que conheço só pela mitologia. Nunca li. Mas isso também aparece com força em vários dos contos que escreveu.
Cortázar pensa na literatura como um jogo com o leitor, quase como nos termos que vimos acima, propostos por Umberto Eco. Em Cortázar, aquele que lê tem um papel ativo como cocriador, um cúmplice e antagonista. Além disso, a própria construção literária aparece como um jogo, seja por meio das criações de animais fantásticos, ou por meio da própria maneira com que lida com a interação e o acaso.
‘Manuscrito achado num bolso’
A visão do acaso pode ser vista de maneira clara no conto Manuscrito achado num bolso. De maneira sintética, o protagonista propõe um jogo para ele mesmo: ele pretende flertar com as figuras femininas que encontra no metrô, mas com a aproximação que deve obedecer a uma ordem, uma espécie de jogo compulsivo.
Primeiro, o contato é feito por meio do contato com a figura feminina presente no reflexo vivo nas janelas. Esse contato não é só indireto, mas aponta para a existência da realidade em um segundo nível, escondido e subterrânea, assim como o espaço do metrô, que deixa a superfície da realidade para um espaço mais profundo. A figura refletida nem sempre carrega as características daquela que reflete, mudam-se os nomes, os passados, as histórias.
Só quando o reflexo nota a presença do protagonista que a aproximação concreta pode ter início, mas unicamente caso haja total sintonia entre os trajetos nas linhas do metrô — um caminho de baldeações previamente definido por ele e que precisaria ser realizado totalmente pela outra figura.
Na atmosfera do conto, o metrô se torna uma metáfora para a representação labiríntica da realidade e as infinitas possibilidades que surgem daí — acasos e conexões entre as diversas linhas numa malha ferroviária extensa. Além disso, o estabelecimento de critérios na organização de uma narrativa pré-concebida na mente do protagonista é quase como a ideia do romance e a causalidade inevitável, que vimos acima ao falar de Jardim das veredas que se bifurcam.
Na conclusão do conto, Cortázar pretende evidenciar as potencialidades do acaso numa narrativa e, a partir de um sucesso parcial no encontro com uma das figuras femininas subterrâneas, o jogo passa a um novo patamar, com novas exigências… e um final em aberto que foge à necessidade determinista da prosa e mostra aos leitores a amplidão infinita do acaso.
Enfim… o que eu gosto de perceber em narrativas como essas é a maneira com que os limites da narrativa parecer se esticar. Como entender os limites da linguagem? É possível inserir o acaso dentro de uma narrativa? Quem sabe. Friedrich Dürrenmatt é outro dos autores que destacou essa questão em sua novela A promessa, ao subverter a lógica da uma investigação ao golpe do acaso.
Talvez a literatura não seja um jogo, afinal de contas. Por mais que os limites sejam questionados, as letras impressas estão sempre impressas. Ou talvez, ela não passe de um lance de dados, uma resposta entre tantas outras para uma simples pergunta: e se…?
Quem sabe…
Obrigado por ler até aqui!
Se você gostou da edição, confira a campanha de financiamento coletivo no Catarse (ou, se quiser colaborar pontualmente, pode me dar um livro de presente) e envie para alguém que você acha que pode gostar.
Não deixe de conferir as outras edições em Ponto Nemo. Você pode conferir as outras produções no Estantário e me ouvir no podcast 30:MIN. Também estou no Twitter e no Instagram. Mas, se quiser conversar, pode responder esse e-mail.
Nos últimos 15 dias, eu:
Participei do episódio: “30:MIN 386 - Por que ler Ursula K. Le Guin? (com Bárbara Krauss e Lucas Mota)”;
Participei do episódio: “30:MIN 387 - A Chegada e História da sua vida (com Ana Rüsche e Thiago Ambrósio Lage)”.